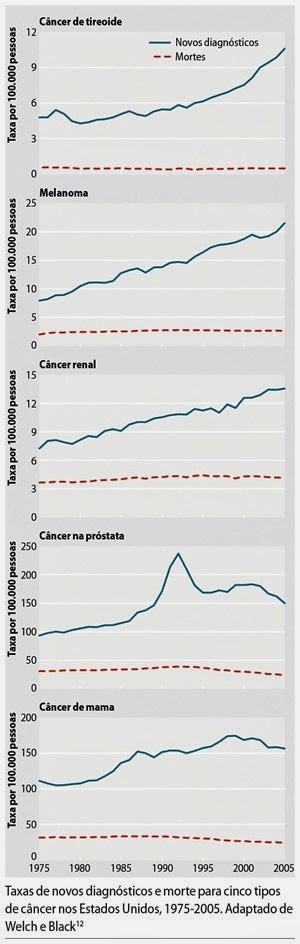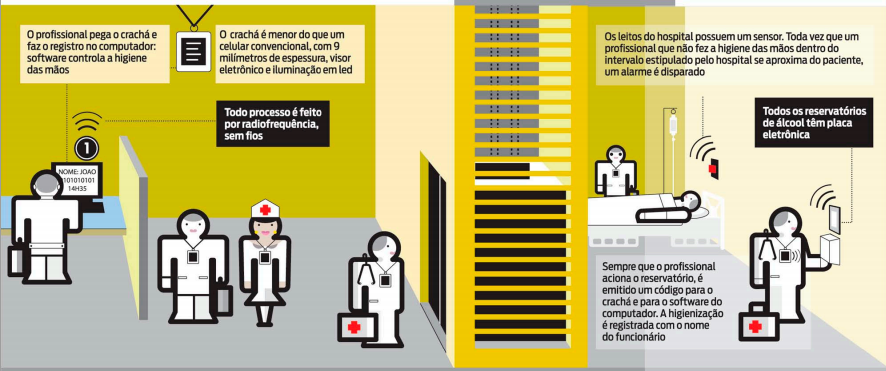A complexidade corresponde à
multiplicidade, ao entrelaçamento e à interação contínua da infinidade de
sistemas e de fenômenos que compõem o mundo, as sociedades humanas, a pessoa humana e todos os seres vivos. Não é possível reduzir a complexidade a
explicações simplistas, a regras rígidas, a fórmulas simplificadoras ou a
esquemas fechados. Ela só pode ser entendida e trabalhada por um sistema de
pensamento aberto, abrangente e flexível - o pensamento complexo.
O modelo
mental linear e a lógica do «ou/ou», que praticamente excluem a
complementaridade e a diversidade, podem coexistir com um modelo mental
integrador e a lógica inclusiva do «e/e». Ambos são necessários e úteis
consoante as situações e os problemas com que nos deparamos. No caso da medicina
e das intervenções em saúde, as questões da percepção, da objetividade, da subjetividade,
dos modelos de causalidade, da explicação de efeitos, da compreensão da conduta
humana, da relação médico-paciente, entre outros, podem beneficiar dos novos modos,
conceitos e instrumentos práticos da complexidade e de mudanças nos nossos
modos de perceber o mundo, de pensar e, consequentemente, de interatuar com
ele.
Comecemos com uma breve introdução ao
tema complexidade e pensamento complexo. A complexidade não é um conceito
teórico e sim um facto. Corresponde à multiplicidade, ao entrelaçamento e à
contínua interação da infinidade de sistemas e fenómenos que compõem o mundo
natural e as sociedades humanas. Os sistemas complexos estão dentro de nós e a
recíproca é verdadeira.
É preciso, pois, que procuremos
entendê-los, porque por mais que tentemos não conseguiremos reduzir a
complexidade a explicações simplistas, regras rígidas, fórmulas simplificadoras
ou esquemas fechados. Ela só pode ser entendida e trabalhada por um sistema de
pensamento aberto, abrangente e flexível — o pensamento complexo. Trata-se de
uma teoria (que hoje já dispõe de um conjunto de instrumentos práticos) que
aceita e procura compreender as muitas faces e as mudanças constantes do real e
não pretende negar a multiplicidade, a aleatoriedade e a incerteza.
Em nossa cultura, existe um modo hegemônico de pensar que determina as práticas no dia-a-dia, tanto no plano
individual quanto no social. Esse modelo é o pensamento linear-cartesiano, que,
como se sabe, foi muito influenciado por um aspecto importante do pensamento de
Aristóteles: a lógica do terceiro excluído.
Essa lógica levou à ideia de que se B
vem depois de A com alguma frequência, B é sempre o efeito e A é sempre a causa
(causalidade simples). Na prática, essa posição gerou a crença errônea de que
entre causas e efeitos existe sempre uma contiguidade ou uma proximidade muito
estreita. Essa concepção é responsável pelo imediatismo, que dificulta e muitas
vezes impede a compreensão de fenômenos complexos como os de natureza
bio-psico-social.
Por esse modelo, A só pode ser igual a
A. Tudo o que não se ajustar a essa dinâmica fica excluído. É a lógica do
"ou/ou", que praticamente exclui a complementaridade e a diversidade.
Desde os gregos, esse modelo mental vem servindo de base para os nossos
sistemas educacionais e, consequentemente, para as nossas práticas quotidianas.
Também desde essa época ele é questionado.
Platão, por exemplo, escreveu: “Separar cada coisa de todas as demais é
a maneira mais radical de reduzir a nada todo o raciocínio. Pois o raciocínio e
a conversa nasceram em nós pela combinação das formas entre si". (Sofista,
259e).
O modelo mental linear é necessário
para lidar com os problemas mecânicos (abordáveis pelas ciências ditas exatas e
pela tecnologia). Mas não é suficiente para resolver problemas humanos em que
participem emoções e sentimentos (a dimensão psico-social). Por exemplo, o
raciocínio linear aumenta a produtividade industrial por meio da automação, mas
não consegue resolver o problema do desemprego e da exclusão social por ela
gerados, porque essas são questões não-lineares. O mundo financeiro é apenas
mecânico, mas o universo da economia é mecânico e humano.
O pensamento complexo baseia-se na obra
de vários autores, cujos trabalhos vêm tendo aplicação à educação, biologia,
sociologia, antropologia social, medicina, aos negócios/administração e ao
desenvolvimento sustentado. As
considerações que se seguem representam uma tentativa de mostrar como as
chamadas ciências da complexidade e o pensamento complexo têm contribuído para
as interações entre as pessoas e destas com a sociedade e o meio ambiente. Como
não poderia deixar de ser, a medicina e as ações de saúde desempenham um papel
da maior relevância nessas interações.
Dada a amplitude do assunto, escolhemos
para este texto falar sobre uma de suas muitas facetas. Falemos, por exemplo,
sobre algumas descobertas recentes da ciência cognitiva e suas aplicações, em
especial a questão da percepção.
Do ponto de vista ortodoxo, o mundo
exterior ao observador é considerado «objetivo». Tudo o que nele existe é
antecipadamente dado, isto é, prévio ao observador. Nessa ordem de ideias, o
mundo é visto como um objeto do qual o sujeito (observador) está separado. Esse
modelo mental constitui a base do empirismo, que afirma que a realidade é única
e por isso mesmo deve ser percebida da mesma forma por todos os homens. A mente
é o espelho da natureza e, por isso, percebemos o mundo exatamente como ele é.
Nossa percepção é, portanto, uma
representação mental do que está fora de nós. É o que se denomina de
representacionismo. Em consequência disso, ao relatar a alguém o modo como
percebemos o mundo, «transmitimos» o resultado de nossas percepções «objetivas».
Numa aula, por exemplo, o professor «transmite» seus conhecimentos aos alunos.
É o chamado instrucionismo. Sob esse ponto de vista metodológico não há
aprendizado, há instrução.
Repitamos: o representacionismo é a
suposição de que nossa percepção resulta em representações mentais dos objetos
percebidos. Nessa linha de raciocínio, o mundo deve ser visto do mesmo modo por
todas as pessoas. Cada observador deve ser capaz de descrevê-lo da mesma forma,
e quem não tiver essa capacidade está “com problemas” e deve ser convertido à
visão «correta», isto é, ao modo de ver predominante.
Foi o que se fez, por exemplo, na China
de Mao Tse Tung, onde os dissidentes ideológicos eram confinados e
redoutrinados. Esse processo acabou por se estender – e de maneira violenta – a
todo o país, por meio da conhecida Revolução Cultural. Nesse caso, o mundo «objetivo»
a ser percebido era o que estava descrito no «Livro vermelho dos pensamentos de
Mao». Na antiga União Soviética, os dissidentes do Partido Comunista eram
enviados a campos de concentração ou internados em instituições psiquiátricas.
Esses exemplos são apenas uma pequena amostra dos milhares disponíveis nos
registos históricos. Constituem mais um capítulo da volumosa e triste história
das ideologias e dos fundamentalismos.
Apesar de a experiência quotidiana nos
mostrar a cada passo que a percepção não ocorre assim, a teoria
representacionista – hoje sob crescente questionamento – continua a ser
amplamente adotada. Em seu nome, as sociedades em que vivemos a todo instante
nos pedem que sejamos «diretos» e «objetivos». No entanto, recentes descobertas
da ciência cognitiva e da neurociência já revelaram que o mundo externo é
percebido de acordo com a estrutura cognitiva do observador. Percebemos o mundo
segundo o modo como essa estrutura está preparada para percebê-lo, e não «exatamente»
como ele é, ou seja, não «objetivamente».
Já tratei com detalhes desse particular
em outros textos e não o farei de novo aqui. De todo modo, convém lembrar
alguns pontos.
1. Como acabamos de ver, cada
observador percebe o mundo externo de acordo com sua estrutura cognitiva, isto
é, do modo como ele está preparado para percebê-lo.
2. Por outro lado, o mundo externo
também percebe o observador – e fá-lo segundo sua própria estrutura, ou seja, da
maneira como está preparado para percebê-lo. Por exemplo, quando caminhamos por
uma praia ao longo desse passeio percebemos de modo pessoal os diversos
detalhes do caminho e da paisagem.
Apreciamos ou não determinados aspectos
da trajetória ou do ambiente. Assim, gostamos mais da areia fofa ou da areia
endurecida deixada pela maré vazante; apreciamos mais ou menos a presença de
algas sobre a areia; preferimos caminhar sobre o solo mais seco ou molhar os
pés à medida que avançamos; e assim por diante.
Terminada a caminhada, se olharmos para
trás veremos que ao longo de nossa trajetória deixamos no mundo externo – na
praia – as marcas da nossa passagem. São as nossas pegadas na areia e, além
disso, o modo como elas estão impressas: mais ou menos profundamente, de acordo
com o nosso peso; mais ou menos em linha reta, segundo o nosso modo de andar ou
as paradas que eventualmente fizemos; mais ou menos regulares e distantes umas
das outras, segundo o comprimento de nossas pernas e a velocidade com que
andamos ou corremos.
Todos esses sinais constituem os
registos, as evidências de como a estrutura do mundo externo “percebeu” nossa
interação com ele. O mundo percebeu e registou a nossa passagem da maneira como
pôde fazê-lo.
Mais ainda, ao longo desse nosso
passeio na praia, também fomos percebidos por muitos olhos e ouvidos: os de
outras pessoas que, de perto ou de longe, notadas ou não, testemunharam a nossa
caminhada. E também por muitos outros olhos, ouvidos e outras formas e
percepção de aves e outros seres vivos que, durante o nosso passeio,
interagiram conosco. Pouco importa que não os tenhamos notado: mesmo assim, as interações
aconteceram em sua multiplicidade e complexidade.
3. Pode-se concluir, portanto, que a
percepção e as ações dela decorrentes não são fenômenos de direção única, do
tipo sujeito -> objeto, observador ->
observado. Ou, no caso da medicina, que as ações de saúde não são «objetivas»
e unidirecionais, do tipo médico -> paciente. Ao contrário, elas são uma via
de mão dupla: sujeito D objeto, observador D observado, médico D paciente. O
sujeito/observador percebe o objeto/observado à sua maneira, e também é
percebido pelo objeto/observado à maneira peculiar deste.
Em suma, não existe percepção somente subjetiva,
nem percepção apenas objetiva. A percepção resulta de uma troca, de um
intercâmbio entre o percebido e o percebido. Mas cada um percebe o outro a seu
modo: segundo a maneira como está estruturado para tanto. Por conseguinte, se
houver mudança de estrutura haverá também mudança de modos de perceber e,
consequentemente de agir. Este é um ponto fundamental e será retomado adiante.
O fenômeno da percepção é o mesmo, mas
seus agentes são múltiplos. Esse facto tem grande importância prática em todas
as ações humanas, inclusive, é claro, na medicina e na educação. Por exemplo,
quando um professor dá uma aula, aquilo que ele comunica a seus alunos é
percebido e entendido de modo diverso de aluno para aluno. São percepções
semelhantes mas são diferentes, individuais. Os especialistas em comunicação já
notaram esse fenómeno há muito tempo. Isso os levou a concluir que o resultado
final da comunicação não é exatamente o que é emitido pelo comunicador, mas sim
o que é individualmente recebido pelos receptores de sua mensagem.
É o que estabelece o teorema de
Shannon: «Uma mensagem enviada por meio de um canal qualquer sofre
interferências no decurso da transmissão, de modo que à sua chegada parte das
informações que ela continha é perdida». Vemos, portanto, que qualquer
comunicação ou mensagem está sujeita a «ruídos», erros, interferências
imprevistas, e tudo isso pode alterar ou deturpar seu conteúdo original.
Em um livro magistral que todo médico
deveria ler – «O caráter oculto da saúde» –, o filósofo Hans-Georg Gadamer
observa: «O diálogo promove a humanização da relação entre uma diferença
fundamental, a que há entre o médico e o paciente. Tais relações desiguais
pertencem às mais difíceis tarefas entre os seres humanos. O pai e o filho. A
mãe e a filha. O professor, o jurista, o pastor. Resumindo: o profissional. Mas
isso é algo que qualquer um de nós conhece bem, o quanto é difícil
entendermo-nos!».3
Uma consciência cada vez mais ampla
dessa dificuldade é indispensável a qualquer relação interpessoal – e a relação
médico-paciente está entre as mais importantes. Para superar esse e outros
obstáculos, precisamos aprender a pôr em prática um dos fundamentos do
pensamento complexo: a unidade na multiplicidade (unitas multiplex). Segundo
esse princípio, os seres humanos são todos iguais (compartilham a condição
humana), mas ao mesmo tempo são todos diferentes (são indivíduos, têm origens
diferentes, atividades diferentes, visões de mundo diversas).
Sabemos que a experiência de estar
doente não é vivida da mesma maneira por todas as pessoas. A atitude de cada um
de nós em relação à doença varia na razão direta da complexidade da condição
humana, suas contingências e muitas outras variáveis. A nacionalidade, a etnia,
o status econômico e social e as crenças religiosas são apenas alguns exemplos dessas variáveis. Assim como deixamos nossas pegadas na areia, a praia também
deixa em nós as suas marcas. A influência da paisagem e de seus detalhes sobre
o nosso estado de espírito e condições de saúde durante o passeio estão entre
elas. De modo análogo, as doenças – as próprias ou as dos outros – também
deixam suas marcas em todos nós, médicos ou não.
Por tudo isso, uma profunda reflexão
sobre as relações da medicina não apenas com a saúde ou a doença, mas também
com a totalidade e a complexidade da condição humana deveria fazer parte da
educação médica. Em todos os sentidos, todas as escolas médicas e todos os
países.
Seria possível chegar a isso em nossa
era mecanicista e objetivista? Para tentar responder a essa pergunta, retomemos
uma frase escrita linhas atrás. Ela sugere-nos uma resposta: se conseguirmos
fazer mudanças suficientes em nossa estrutura cognitiva, haverá modificações em
nossos modos de perceber e, consequentemente em nossos modos de agir. Por tais
modificações devemos entender mudanças de modelos mentais, de modos de pensar.
Trata-se, evidentemente, de uma tarefa de imensas proporções – mas nem por isso
ela deve nos deixar desanimados. Essa é a proposta-chave do pensamento
complexo.
HUMBERTO MARIOTTI. Médico e psicoterapeuta. Professor e Coordenador do Centro de Desenvolvimento de Lideranças da Business School São Paulo.